
Julio Bezerra
Abstract
The body has always been on cinema’s agenda. Film, from its beginnings, satisfies an obsession about the body, a kind of desire for exploration, research and fragmentation of the body. The purpose of this article is precisely to dive in the cradle of the seventh art embracing the body as a kind of conductor, identifying, in the early years of motion pictures, the sprout of some of the most recurrent lines of registering body in film: the monstrous and extraordinary body, its materiality, its fluids, its flesh; the burlesque body, launched into the world, at the mercy of chance; the domesticated body, wrapped in glamour and fetish.
Introdução
O corpo sempre foi matéria-prima para o cinema. Os irmãos Auguste e Louis Lumière, na virada do século XIX para o XX, representaram, na verdade, uma espécie de desmembramento de um movimento em direção ao corpo. Um movimento que tem como um de seus divisores de água o nascimento da medicina moderna. Como nos diz Michel Foucault (1980), os séculos XVII e XVIII foram palco de uma extensa transformação na prática médica em que o corpo, até então supostamente desconhecido, converteu-se em objeto legível através de uma enorme variedade de técnicas1. Como aponta o pensador francês, a consolidação da clínica implicava necessariamente o desmembramento do corpo em uma enorme variedade de normas, códigos e discursos.
Na mesma época em que os irmãos Lumière realizavam suas primeiras projeções (por volta de 1895), o físico alemão Wilhelm Conrad Roentgen descobria o raio X. Conforme David Le Breton destaca acerca do aparato, “pela primeira vez foi possível ultrapassar o labirinto do tecido humano sem que a morte de alguém fosse necessária” (Le Breton 2003, 211). A contemporaneidade entre o cinema e o raio X tampouco deve ser tomada como uma mera casualidade. O que se inaugurava era uma nova percepção do corpo - cuja origem remete às práticas médicas do século XVIII2. Aos poucos, emergia um processo de espetacularização do corpo que transgredia os limites entre ciência e arte.
O cinema saciava então uma obsessão em relação ao corpo, uma espécie de desejo de exploração, de investigação e fragmentação do corpo, que o tornaria um grande aliado da ciência na construção e difusão deste fascínio que moldou a percepção do corpo e os sentidos atribuídos a ele. O desejo analítico em relação ao corpo presente na medicina também esta inscrito na sétima arte, em um termo como “decupagem” - que, aliás, poderia muito bem ser substituído por dissecação. Afinal, como nos lembra João Luiz Viera, a decupagem indica um processo de edição que, pelo menos em português, não poderia ter um nome mais significativo: corte. Não é de maneira nenhuma surpreendente que ao longo das primeiras décadas do século XX muitos foram os médicos que se maravilharam com o potencial fornecido pelo cinema e sua capacidade de tornar possível a criação de um arquivo visual de doenças.
Há uma relação epistemológica entre o olhar cinematográfico e o olhar da anatomia. Ao articular anatomias do visível, tanto o cinema quanto a lição da anatomia trazem tudo, espacialmente, para mais perto. A genealogia analítica do cinema descende, de certa forma, de uma fascinação anatômica distinta pelo corpo, por sua fragmentação e super exposição ampliada numa tela de cinema, conforme explica o fascínio prático e teórico pelas possibilidades ilimitadas do rosto humano fotografado em close-up. Trata-se de um desejo corpóreo, encontrado, de maneira forte, nos primeiros filmes, obcecados com atos e performances sobre o corpo, mostrando, pela primeira vez com um realismo até então inédito, o corpo dançando, lutando, trabalhando, dando um espirro, caminhando, etc. (Vieira 2000, 85).
Ao construir espaços de luz e sombra, escuridão e visibilidade, o cinema transforma o corpo humano e o corpo das coisas numa geometria de formas, superfícies, volumes e texturas. Do chamado primeiro cinema3, às estéticas pretensamente naturalistas ou aos gêneros despudoradamente fantasiosos, há sempre um desejo pelo corpóreo. O termo, como sublinha José Gil (1997), diz respeito à essência ou à natureza dos corpos ou dos estados corporais, relacionando-se a tudo que preencha o espaço e se movimente, mas que, ao mesmo tempo, situe o homem como um ser no mundo. O corpo no cinema, desde seus primórdios, dialoga não somente consigo próprio, como também com todos os outros elementos cinematográficos, da iluminação ao figurino, do cenário ao som. Em sua movimentação pelo quadro, o corpo se expressa em uma dança descontínua, aparentemente livre, porém ordenada, em gestos específicos e fluxos intermitentes. São muitos os cineastas que mostraram, em seus projetos, uma preocupação sobre a relação corpo/espaço ou corpo/ator das mais diversas maneiras.
O objetivo desse artigo é justamente mergulhar no berço da sétima arte adotando o corpo como uma espécie de fio condutor, identificando, nos primeiros anos das imagens em movimento, o germine de algumas das linhas mais recorrentes de emprego do corpo no cinema: o corpo monstruoso e extraordinário, sua materialidade, seus fluidos, sua carne; o corpo burlesco, ao acaso, às efemeridades, lançado no mundo; o corpo domesticado, envolto em glamour e fetiche. A ideia é, a cada parada, apontar para cineastas e ou filmes mais recentes que atualizaram essas diferentes formas de apreensão do corpo. Seguimos as pistas de Antoine Baecque (2008), um dos poucos que se propôs a traçar uma história do corpo tal como ele é ajeitado para aparecer na tela4. Pois para ele, o corpo é um “dos objetos faróis da história cultural” e o cinema seria “seu meio de transmissão, tanto sua origem como sua vulgarização, sobre a tela do espetáculo de massa” (Baecque 2008, 481).
O corpo monstruoso
É preciso lembrar, como faz Vanessa Schwartz (2004), que o cinema é filho da Belle Époque, de uma Paris urbana e ávida por espetáculos do corpo, por experiências visuais “realistas”. Schwartz imagina o cinema como uma prática cuja história pode ser entendida analisando, de um lado, a relação entre tecnologias e conteúdos representados, e, de outro, o discurso produzido pelas experiências dessas tecnologias em um contexto específico. Neste processo a autora vai defender uma linha de continuidade entre o cinema e outras atrações de sucesso da época, como o necrotério e o Museu Grévin.
O necrotério de Paris foi construído em 1864 no centro da cidade, atrás da Catedral de Notre Dame, e era aberto ao público sete dias por semana. Como uma instituição municipal, seu objetivo era servir de depósito de mortos anônimos, cuja identidade, esperavam os administradores, pudesse ser estabelecida através da exibição pública. No fim do século XIX, o necrotério possuía uma sala de exposição, onde duas filas de cadáveres, cada uma em sua laje de mármore, eram exibidas. A identificação de corpos mortos foi transformada em show. Listado entre as grandes atrações da Paris de finais do século XIX, a casa chegava a atrair cerca de 40 mil pessoas em seus dias mais movimentados, quando a história de um crime circulava na imprensa da capital. É o caso da “criança da Rua do Vert-Bois”, que, em abril de 1886, levou 150 mil visitantes ao necrotério para ver o cadáver de uma menina, vestida e sentada em uma cadeira de veludo vermelho.5
Schwartz relata um curioso cartum de jornal do ano em que o Musée Grévin foi inaugurado, em 1882. A idéia era associar o recém aberto estabelecimento com o já então consagrado necrotério. Dois operários olham boquiabertos uma figura de cera estendida em uma laje. Um deles diz: “Uau, parece um cadáver”. Seu amigo responde: “Isso é quase tão divertido quanto o necrotério”. O Musée Grévin foi um sucesso imediato, com mais de um milhão de visitantes por ano. Seu objetivo era satisfazer o interesse do público por uma representação mais “realista” dos fatos diários através de corpos de cera esculpidos, enrugados e vestidos, que contavam histórias e reconstituíam cenas históricas. Ou seja, o cinema não apenas forneceu um meio no qual estes elementos da modernidade se encontravam. Ao contrário, como nos diz Schwartz:
O cinema (...) foi produto e parte componente das variáveis interconectadas da modernidade: tecnologia mediada por estimulação visual e cognitiva; a representação da realidade possibilitada pela tecnologia; e um procedimento urbano, comercial, produzido em massa e definido como a captura do movimento contínuo. O cinema forçou esses elementos da vida moderna a uma síntese ativa; ou, de um outro modo, tais elementos criaram suficiente pressão epistemológica para produzi-lo. (Schwartz 2004, 27).

O cinema, portanto, vem a reboque desta cultura espetacular dos corpos da Belle Époque. Os parques de diversão logo o compreenderam, antes mesmo das grandes companhias de produção do cinema mudo. Para atrair o público era preciso oferecer a eles corpos excepcionais: filmes sobre monstros, criminosos e suas vítimas, sobre os estragos causados pelo alcoolismo, etc. Para Baecque, os primeiros cineastas franceses e italianos entenderam que, para contar histórias por meio do registro de variados corpos, era preciso fazer deles algo simultaneamente doente e sedutor, monstruoso e amável. É o que mais tarde seria sintetizado na figura do monstro criado pelo Dr. Frankenstein6 - vale lembrar que a tradição da “aberração humana” como representação do maravilhoso poder divino tem uma longa história na cultura europeia; durante anos deficientes, doentes e estrangeiros foram expostos em “shows de curiosidades” e em circos, muitas vezes em jaulas.
As primeiras salas de cinema de Paris, como sublinha Baecque, foram instaladas no mesmo local em que ocorriam espetáculos do corpo excepcional, em teatros de café-concerto reformados, em cabines de figuras de cera, às vezes até em bordéis ou ginásios. Para ele, o cinema prolongava a vida dos corpos extraordinários da Belle Époque:
Este vertiginoso desejo de contemplar corpos excepcionais habita os olhares na Belle Époque. Sem dúvida porque os espectadores sentem confusamente que esses corpos vão desaparecer, quer sejam monstruosos, virtuosos, ou fora das normas, sob o efeito dos progressos da ciência, da modernização da sociedade, e porque encarnam humores e pulsões de outros tempos aos quais, mesmo que a época tenha fé no progresso, o público permanece muito apegado. É, de certa maneira, o papel histórico confiado ao cinema: prolongar na tela os corpos extraordinários do circo, do palco, dos parques de diversão, reconstituí-los, manter a sua imagem, a fim de que sejam sempre visíveis, mesmo que desapareçam dos espetáculos ao vivo (Baecque 2008, 483 e 484).
O corpo “monstruoso” do primeiro cinema é fecundado pelo olhar das massas e pelos espetáculos ao vivo da Belle Époque, mas será fabricado em massa nos EUA, que, primeiro na Costa Leste e depois em Hollywood, vão praticar uma formatação dos corpos em grande escala, produzindo glamour e terror em série. Já nos primeiros anos de Hollywood7 o corpo no cinema começa a encontrar algumas regras, estrelas e alguns cânones. Baecque fala de uma passagem do corpo espetáculo da Belle Époque para o corpo artifício de Hollywood. Para ele nenhum outro cineasta sintetiza melhor este momento que Tod Browning e seu ator fetiche Lon Chaney. De um lado, um cineasta do artifício, porém realista; do outro, uma estrela popular de rosto “degemerado”, uma combinação perfeita “do espetáculo Belle Époque e o artifício hollywoodiano” (Baecque 2008, 486).
O corpo “monstruoso” e “extraordinário” do primeiro cinema se enraizaria na história da sétima arte como uma de suas formas de apreensão mais recorrentes. Marcado por diversas transformações tecnológicas, ele está, por exemplo, no coração das filmografias mais recentes de realizadores como Paul Verhoeven e, sobretudo, David Cronenberg8. É um cinema que propõe um debate diferente sobre as relações entre corpo, imagem e tecnologia. A questão central dos filmes do canadense Cronenberg trata do que o pesquisador Scott Bukatman (1993), ao se referir à crença cada vez maior de que o (hiper) individualismo poderia se fundir às tecnologias virtuais, chamou de identidade terminal: uma nova subjetividade na interface entre o corpo e a TV ou a tela do computador.


O corpo humano será a matriz recorrente de Cronenberg, território que ele transgride e reconfigura a todo o momento. O corpo como terreno de experimentações, submetido aos efeitos do tempo, dos vícios e das pulsões. No princípio de sua carreira, Cronenberg seria analisado sob o rótulo do horror trash (do sangue, da aberração física, do excesso), uma classificação compreensível, porém redutora. Seus personagens até “Scanners” (1981) cumprem a uma série de regras de cinema de gênero, embora o cineasta tenda a ultrapassá-las graças a uma profunda capacidade de observação do ser humano. Para Cronenberg, um personagem é um corpo que precisa ser torcido, deslocado, situado no tempo, no devir, em relação com aquilo que não é ele. Nesta primeira fase da filmografia do canadense, o mal deve ser externado fisicamente. Os corpos são deformados, eliminam estranhas excreções, sofrem com uma desordem mental. Este corpo, cada vez mais domesticado e adaptado às suas funções sociais e à ordenação econômica , carrega, contudo, em seu núcleo, um potencial anárquico. Desde seus primeiros filmes para a televisão, Cronenberg faz do corpo uma força produtiva, capaz de afirmar seus instintos mais rudes e, não exatamente resistir, mas combater os esforços disciplinares das normas socioculturais.
A partir de “Videodrome” (1983), Cronenberg daria ainda mais clareza a um debate insistente sobre as relações entre corpo, imagem e tecnologia. Uma espécie de patologia psicanalítica começa a se abater sob os personagens. Eles se tornam obcecados, com uma percepção tortuosa da realidade, sujeitos inexoravelmente ao vício. Seus corpos, imbricados à mente, sofrerão ajustes. Trata-se de um caminho de mão dupla. O corpo se apega cegamente ao vício, às injunções da realidade externa, sem cair no solipsismo ou em um mundo de predestinações. Os corpos cronenbergianos são pensamento, sentimento e vísceras. Eles suam, sangram, transam, expelem, cospem, lambem, morrem. São estranhos e por vezes monstruosos justamente porque são carnais, humanos. Como Paula Sibilia (2002) sugere, é como se Cronenberg estivesse zombando das teorias do “pós-humano” e do “pós-biológico”, que alimentam um desejo de superação das limitações biológicas referentes à materialidade do corpo. Cronenberg é um cineasta “darwiniano”, como ele mesmo gosta de dizer. O que está em jogo em seus filmes, como disse Bukatman, é a possibilidade de uma nova carne, uma reformatação do “estar no mundo”.9
O corpo burlesco
Outro grande registro corporal surge logo nos primeiros da sétima arte: o burlesco. O termo designa, nas artes do espetáculo, um gênero fundado na multiplicação e no encadeamento de piadas, de farsas, muitas vezes de mau gosto. No cinema, ele viria tratar precisamente das relações de confusão entre um espaço e um corpo, que se desmembra nas mais variadas ações, sobressaltos e cambalhotas. Herdeiro de uma tradição popular que veio se fundir com a do circo e da mímica, o burlesco sempre esteve presente como uma possibilidade para o cinema. Andre Bazin, por exemplo, diria que o filme burlesco, ao incorporar os novos dados espaciais e temporais (em oposição ao teatro burlesco), tornaria a transformação de situações teatrais em cinema em algo legítimo.
O burlesco no cinema reflete o senso de transiência, de movimento e de substituição rápida dos estímulos, de multiplicidade e simultaneidade de experiências, que caracterizava a sociedade do início do século XX. O corpo se alimentava então de uma certa folia e hiperatividade, de um curioso impulso expansivo. Os comediantes são corpos angustiados diante da instabilidade da percepção e do senso de fugacidade na lida com o instante. Não é sem razão que os rostos dos atores, curiosamente, mostram-se sempre, apesar de toda a comicidade, inalteráveis, com um olhar paralisado diante das coisas. Não é tampouco difícil entender porque este é um gênero que não procede através de uma linearidade dos fatos, dos acontecimentos.
“Esta heterogeneidade remete por outro lado a uma polifonia dos gêneros convocados pela encenação (a acrobacia, a mímica, o teatro, a dança, o desenho) que, em ritmo de espetáculo onde a interrupção, a pausa, o interlúdio, o tombo fazem explicitamente parte do jogo e do prazer. Assim, os heróis burlescos fazem de modo vivamente corporal a experiência de uma ‘elasticidade narrativa’: o corpo do personagem passa por todos os momentos possíveis de uma idéia” (Baecque, 2008: 486 e 487).

Para Baeque, o burlesco, assim como os corpos excepcionais e monstruosos, fazem do corpo o primeiro traço da crença no espetáculo, “o lugar onde o espetacular se investe de maneira privilegiada” (Baecque 2008, 482). Ele cita o francês Jean Durand, ator que, na pele de personagens cômicos como Calino e Onésime, foi advogado, toureiro, bombeiro, cowboy, polígamo, arquiteto, domador e guarda de presídio. Mas é em Hollywood que o burlesco chegaria à perfeição, graças ao enquadramento variável, ao uso da montagem e a inventividade de produtores e atores. Dessa maneira, a própria noção de diretor de cinema se torna então inseparável da exposição de seu próprio corpo: Max Linder, Charles Chaplin, Buster Keaton e Harold Lloyd. O corpo como único instrumento de espetáculo.
O cinema contemporâneo, sobretudo nomes como Elia Suleiman e Tsai Ming-Liang, também faz uso do burlesco. O cineasta taiwanês, muito mais associado ao cinema de Michelangelo Antonioni, opera, no que concerne ao emprego do corpo, justamente em uma linha de continuidade que vem do protagonista inexpressivo de Buster Keaton e o espírito infantil que define o Sr. Hulot de Jacques Tati. Um filme como “O Rio” (The River, 1997) se baseia em uma fé perceptiva no mundo, em uma adesão à experiência vivida pelos personagens. Hsiao-Kang (o modelo-protagonista-corpo fetiche de Ming-Liang) encarna uma certa desordem que se perpetua após a sua passagem. É um personagem lançado no mundo, atado ao instante, imerso no fluxo do tempo, à mercê do acaso, completamente indiferente às forças que o circundam. Ele mantém uma postura curiosa diante do mundo.
Ming-Liang dá forma a uma narrativa sem causas ou efeitos, sem ênfase psicológica, moral ou ideológica, marcada pela atenção dada aos espaços, à caracterização dos personagens e à acentuação hiperbólica da materialidade dos corpos. Seus filmes vibram a cada imagem com a possibilidade de uma conexão latente a qualquer momento. E por mais tentador que possa ser interpretar as atitudes dos personagens como passivas, ou defini-los como andarilhos sem rumo, sonhadores vagos, o segredo ou essência deles, como estamos tentando argumentar, está em outro lugar. Pois o corpo não é um “mecanismo cego” ou a soma de sequências causais independentes. Ele não tem um papel de passividade e inércia, mas sim o de colocar-nos em contato com o outro e com o mundo. Hsiao-Kang se sente constantemente convocado pelo mundo exterior, e seu corpo aceita essa convocação por inteiro, imerso numa aventura que a cada instante lhe permite descobrir um pouco mais a respeito de um mundo que não cansa de surpreendê-lo.
O corpo domesticado
O burlesco e o monstruoso não são os únicos corpos da Hollywood dos primeiros anos. A partir dos anos 10, o cinema americano será palco das principais transformações que viriam a se consolidar nas décadas seguintes. Baecque nomeia estas mudanças com as seguintes expressões: domesticação e glamourização. O cinema americano, como santuário corporal, foi sistematicamente normalizado pelo sistema dos estúdios hollywoodianos. Criou-se aos poucos uma certa estabilização na indústria de cinema e um padrão não somente narrativo, como também no que concerne ao processo de massificação do gosto e ao consumo dos filmes.
O período de domesticação é o que leva o cinema para dentro das famílias e da vida social controlada pelas elites. O cinema deixaria de ser um entretenimento marginal para se tornar doméstico, familiar. A partir de 1908, com a criação da Motion Pictures Patents Company (MPPC), órgão auto-regulador do segmento, todo o esforço das empresas cinematográficas era o de associar às estruturas formais da sétima arte um discurso moral e um objetivo educativo e edificante. Naquele momento, o sucesso dos Nickelodeons10 e sua forma de diversão não controlada pelos poderes institucionais se tornou um grande problema. Para atrair as classes mais abastadas, era preciso se aproximar das formas burguesas de representação e estabelecer algumas regras de condutas para as salas de cinema.
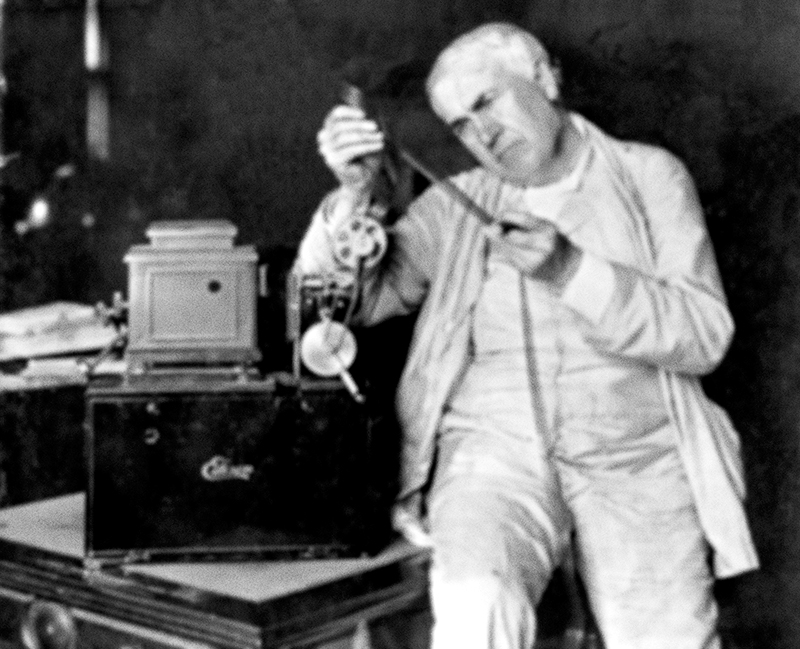
Em 1909, a MPPC já propagandeava seus filmes como “divertimentos morais, educativos e sãos” (1909, apud, Cesarino 1995, 30). O esforço para atrair a classe média é visível inclusive na tematização estética do cinema feita pela crítica especializada, que chegava a propor estratégias como a proibição do olhar do ator na direção da câmera, a definição de padrões de comportamento para os heróis e heroínas e a freqüência dos finais felizes. Este processo ainda passa pela domesticação e pelo controle da experiência cinematográfica. Era preciso afastar os temores que a classe mais abastada alimentava em relação aos Nickelodeons: a diminuição da escuridão absoluta nas salas, a presença do lanterninha, eventual presença de um comentador, e a manutenção de ambientes limpos e arejados. Os próprios espectadores passaram a respeitar alguns códigos de conduta, especialmente no que diz respeito à vestimenta e ao comportamento durante as sessões – um tanto caóticas nos Nickelodeons, com espectadores barulhentos e espalhados por todos os lados, seja em pé ou sentados. Em um trabalho minucioso sobre o primeiro cinema, Flávia Cesarino Costa comenta sobre este processo:
Esta domesticação não se refere apenas à adequação do cinema a um novo público de classe média, à moralização temática dos filmes, à familiarização do ambiente em que eram exibidos, ou ao que Noel Burch chama de codificação capitalista da propriedade da imagem sobre um estado anterior (de apropriação do cinema pelas massas e pela cultura popular). Quando falamos em domesticação, estamos nos referindo também a uma submissão civilizatória, através da transformação do próprio código narrativo do cinema (Cesarino 1995, 34).

Não podemos esquecer de D.W. Griffith. Ele teve papel decisivo nesta nova maneira de fazer filmes, cristalizando um modelo de cinema que mais tarde seria chamado de clássico11. Com “O nascimento de uma nação” (1917), Griffith foi o primeiro cineasta a desenvolver plenamente a idéia de montagem. A montagem – isto é, a alternância entre várias dimensões de plano, a composição diferente de cada plano, ora aproximando, ora distanciando os personagens – nascia com uma função, antes de mais nada, narrativa. Esta base narrativa criada por Griffith estabelece um vínculo direto com o mercado de entretenimento, e a história do cinema clássico americano será marcada por esta exigência: a de contar histórias realistas, com os acontecimentos transcorrendo sucessivamente de forma contínua12.
A representação diferenciada da temporalidade no cinema de atrações e no cinema narrativo coloca em foco uma infinidade de questões. Talvez o que mais nos interessa neste momento seja o fato de que o estabelecimento de uma representação homogênea e progressiva do tempo também opera como uma espécie de domesticação dos corpos em cena. Os corpos deixam de responder a uma temporalidade das atrações (que se faz em uma sucessão de “agoras”, de instantes em bloco) para ganhar uma temporalidade narrativa (em uma continuidade causal entre o antes, o agora, e o depois). Os corpos são disciplinados pelo roteiro, respondem a regras e convenções relativas ao espaço, ao ponto de vista, à centralidade figurativa do plano e à montagem em continuidade. Os corpos tornam-se funcionais. Outrora monstruosos, caóticos e ambíguos, os corpos, como sublinha Baecque de maneira insistente, passam por um processo de glamourização e idealização:
O ficar fechado no estúdio é a condição primeira de uma remodelação dos corpos em obediência aos cânones de uma beleza mais padronizada, de uma estetização das aparências para a qual concorrem, por todos os seus efeitos, as técnicas cinematográficas (iluminação, cenários, e logo jogo de cores), de um controle dos efeitos e das atitudes que é estabelecido pelos vigilantes e pudicos códigos de censura de ambos os lados do Atlântico. O cinema para ‘o grande público’ concentra assim a maior parte dos seus meios corporais em torno da fabricação de um glamour padrão, novo horizonte do sonho sensual internacional (Baecque 2008, 488 e 489).
A mulher fatal seria o ícone maior desse glamour e desse ideal, dando explicitamente ao aparecimento das personagens femininas o poder de encarnar os fetiches da sociedade moderna. Esculpida por Hollywood com pitadas igualmente bem servidas de inocência e escândalo, fonte divina e desencadeadora do mal e da desgraça, o corpo feminino não é animado por nenhuma razão. Muito pelo contrário. Ele mais parece flutuar na aura da mera aparência. “Essa mulher, para muitos espectadores, exprime de imediato e radicalmente esta faculdade: ser a própria encarnação do desejo de cinema da massa” (Baecque 2008, 489), explica Baeque.
Theda Bara talvez tenha sido a primeira estrela criada inteiramente pelo cinema - até então, as estrelas dos filmes vinham todas do teatro, do vaudeville ou até mesmo do circo. Em 1915, Theda Bara já protagonizaria um filme de Frank Powell cujo nome não poderia ser mais revelador: “Beija-me, idiota” (Kiss me, Idiot). Também pela primeira vez, usa-se o termo “vamp” para descrever uma figura feminina no cinema: o olhar fascinante em decorrência de olheiras, a atuação nos antípodas do natural, o figurino luxuoso, os adereços em abundância, a sensualidade orientalista, o exibicionismo das poses, o culto do amor, e, é claro, o destino fatal para os homens vítimas desse amor.
As vamps povoam o cinema desde então, satisfazendo cada vez mais o nosso desejo e o nosso olhar. O espectador é hoje mais do que nunca um voyeur diante destes corpos fetichizados. É o que vemos em um filme paradigmático como “Nove e meia semanas de amor” (Nine 1/2 Weeks,1986), um sucesso de bilheteria mundial dirigido por Adrian Lyne. O filme nos conta uma história de amor e erotismo entre Elizabeth (Kim Basinger), uma bela e sexy mulher que trabalha em uma galeria de arte, e John (Mickey Rourke), um homem rico e um tanto misterioso.

Lyne, com um passado de sucesso na publicidade, nos oferece um pastiche de referências modernas e identificações tradicionais, planos impecáveis e convencionais, décor ostensivamente chic, locações elegantes, corpos bonitos e todo um receituário erótico, porém inócuo. E Kim Basinger é de uma eficiência acachapante. Lizz é uma colcha maneirista de sinais de feminilidade: as caras e bocas, os olhares encobertos, as mechas dos cabelos, os pés e as pernas, os suspiros, os sobressaltados, os gritinhos. Tudo nela é ao mesmo tempo inofensivo e desejável. Ela jamais decepcionará o espectador, não vai confundi-lo ou chocá-lo. Lizz reage sempre como se espera que ela o faça, recusando apenas aquilo que o espectador não toleraria. Em determinada cena, por exemplo, a personagem será capaz de se masturbar sem provocar nenhum constrangimento, sem espaço para obscenidades, sem atrapalhar a sua pipoca.
Lizz esbanja uma espécie de integridade clássica que as personagens erráticas do cinema moderno haviam jogado no lixo. Seu compromisso maior é com uma certa noção de perfeição. Como diz Maria Rita Kehl, “ela se ama sem se esquecer de que é bela” (Kehl 1991, 214). Ao mesmo tempo, estamos diante de um corpo inofensivo. Um corpo frígido que nada nos revela. O escândalo voltou à categoria do mau gosto. Nas longas e freqüentes cenas de sexo, Lizz reage exatamente como esperado e só recusa (a pimenta, na famosa cena no chão da cozinha) aquilo que o espectador não toleraria vê-la aceitar. O fetiche seria a própria perfeição desta personagem. Vemos seu corpo o suficiente para nos assegurarmos de sua beleza e sedução, mas não a ponto de identificarmos sua imperfeição.
Se todo o cinema erótico proporciona em certa medida prazer voyeurista ao público, ‘Nove e Meia Semanas’, sob um disfarce de elegância e bom gosto, vai mais longe e oferece uma experiência do gozo fetichista. Diante do corpo perfeito, semi-descoberto mas nunca totalmente revelado de Basinger – e aqui, a ocultação é fundamental -, diante das cópulas estilizadas e atléticas capazes de nos poupar daquilo que, no sexo, continua sendo obsceno, voltamos a nos entregar à fantasia deliciosa e infantil da indiferenciação entre os sexos: a fantasia que o fetichista preserva à custa de truques e delimitações cientificamente calculadas em seu contato com o outro (Kehl,1991, 221)
Não é a toa que, enquanto procura definir uma apresentação própria da sétima arte, o cineasta, crítico e então redator-chefe dos “Cahiers du Cinéma”, Eric Rohmer, falava sobre “aquilo que restará do cinema” e lançava a seguinte hipótese: “A própria matéria do filme é o registro de uma construção espacial e de expressões corporais” (Rohmer 1958, 46). E se talvez o corpo ainda não tenha o seu lugar na teoria cinematográfica, a prática vem apresentando exercícios preciosos de diferentes formas de representação, no contexto dos modos de organização dos gestos e das imagens criadas no corpo e a partir dele. Ao longo destas páginas, revisitamos o nascimento do cinema e identificamos alguns dos mais recorrentes registros corporais da história da sétima arte. O monstruoso. O burlesco. O domesticado. Muitos outros são possíveis. Pois de Buster Keaton a David Cronenberg, passando por John Cassavetes, Michelangelo Antonioni, Jean-Luc Godard, Robert Bresson e muitos outros, o corpo no cinema não é apenas um objeto de representação, mas um catalizador de intensidades e fluxos de energias, uma zona de constantes disputas políticas, um ponto de partida para a articulação das mais variadas paixões e desejos.
Bibliografia
Amiel, V. 1998. Le corps au cinéma, Paris: PUF.
Baecque, Antoine. 2008. “O corpo no cinema”. In História do Corpo 3 – As mutações do olhar. Organizado por Jean-Jacques Courtine, 481-507. Petrópolis: Vozes.
Bazin, Andre. 1992. O que é o cinema ?, Lisboa: Livros Horizontes.
Bellour, Raymond. 1975. L’analyse du film, Paris: Bronché.
Bordwell, David. 1985. Classical Hollywood Cinema, Cambridge: Harvard University Press.
Breton, David Le. 2003. Anthropologie du corps et modernité, Paris: PUF.
Brenez, Nicole. 1998. De la Figure en Général et du Corps en Particulier, Paris: De Boeck.
Bukatman, Scott. 1993. Terminal Identity: The Virtual Subject in Postmodern Science Fiction, Durham: Duke University Press Books.
Coli, Jorge. “O fascínio de Frankenstein” in Folha de São Paulo, 02 de junho de 2001.
Foucault, Michel. 1994. Nascimento da clínica, Rio de Janeiro: Forense Universitária.
Gil, José. 1997. Metamorfoses do corpo. Lisboa: Relógio D’água.
Kehl, Maria Rita. 1991. “Nove e meia semanas de amor”. In O cinema dos anos 80. Organizado por Amir Labaki, 207-224. São Paulo: Brasiliense.
Rohmer, Éric. “Politique contre destin” in Cahiers du Cinéma nº 86, agosto de 1958: 46-51.
Schwartz, Vanessa R. 2004. “O espectador cinematográfico antes do aparato do cinema: o gosto do público pela realidade na Paris fim-de-século”. In O cinema e a invenção da vida moderna. Organizado por Leo Charney e Vanessa Schwartz, 337-360. São Paulo: Cosac & Naify.
Sibilia, Paula. 2002. O homem pós-orgânico: Corpo, subjetividade e tecnologias digitais, Rio de Janeiro: Relume Dumará.
Vieira, João Luiz. 2000. “Anatomias do visível: cinema, corpo e cultura visual médica – uma introdução”. In Estudos de Cinema II e III. Organizado por Fernão Ramos, 80-85. São Paulo: Annablume.
Filmografia
Beija-me, idiota. 1915. De Frank Powell. EUA: Kiss me, Idiot
Calafrios. 1975. De David Cronenberg. Canadá: Shivers
Nove e meia semanas de amor. 1986. De Adrian Lyne. EUA: Nine 1/2 Weeks
O nascimento de uma nação. 1917. De D.W. Griffith. EUA: The birth of a nation
O Rio. 1997. De Tsai Ming-Liang. Taiwan: The River
Scanners. 1981. De David Cronenberg. Canadá: Scanners
Videodrome. 1983. De David Cronenberg. EUA: Videodrome.
Notas finais
1Foucault detalha estas transformações que fizeram do olhar sobre a interioridade do corpo um espetáculo a ser decifrado no capítulo VII (“Ver e Saber”) de “O nascimento da clínica”.
2Não somente a ciência, como também a arte, naquele momento livre das amarras do pensamento cristão medieval, empenhou-se em uma crescente investigação do corpo. O corpo começava a perder o status de entidade intocável enquanto símbolo da integridade humana. Os artistas conseguiram finalmente estudar as formas anatômicas além dos limites da pele, investindo para dentro. É curioso lembrarmos que Leonardo Da Vinci e Michelangelo dissecaram cadáveres para melhor compreender e representar a anatomia humana. Alguns artistas chegavam até a registrar estas aulas de anatomia, como podemos ver em “A aula de anatomia do médico Nicolaes Tulp” (1632), de Rembrandt Van Rijn.
3O termo “primeiro cinema”, ou “cinema das origens”, ou ainda “cinema de atrações” comporta em geral os primeiros dez anos que se seguiram à primeira exibição pública do filme “Chegada do trem na estação de La Ciotat” (1895), dos irmãos Lumière. Do ponto de vista da história e da teoria do cinema, há hoje um certo consenso sobre as características deste primeiro cinema: ao contrário do cinema que vai se desenvolver na década seguinte e busca esconder seus artifícios para criar um mundo fictício orgânico, o primeiro cinema funciona como uma espécie de palco de um teatro de variedades. Não chega a narrar, apenas mostra algo “excitante”.
4Vale ressaltar que muitos críticos e pesquisadores de cinema se debruçaram sobre o corpo (Bazin, Daney, Bellour, Deleuze, entre outros), embora estes esforços se detivessem em sua grande maioria em filmes ou cineastas específicos, raramente propondo categorias e ou genealogias mais gerais a respeito do uso do corpo no cinema. Entre os autores que, como Baecque, tomaram o corpo como elemento central de suas análises são Nicole Brenez (1998) e V. Amiel (1998).
5Um dos diretores do necrotério parisiense tenta explicar a popularidade do espaço: “O necrotério é considerado em Paris como um museu que é muito mais fascinante do que até mesmo um museu de cera, porque as pessoas exibidas são realmente de carne e osso” (La Presse, Paris: 22 de março de 1907).
6“Frankenstein”, como nos diz Jorge Coli, “liga arte e ciência, a imagem cristalina e o cadáver repugnante, a violência e o sofrimento. Ele incorpora, no projeto monstruoso, uma ambiguidade humana, muito humana. Ele mostra as virtudes da imperfeição” (Coli, 2001).
7 A primeira leva de produtores se instala na Califórnia em 1911, embora 1915, quando Carl Laemmle inaugurou os estúdios da Universal, seja o ano que normalmente se considera como o do nascimento de Hollywood.
8Cronenberg já tem extensa filmografia, com diversos trabalhos para a televisão canadense desde meados dos anos 60, mas estreou no cinema com “Calafrios” (Shivers, 1975) e ganhou fama ao longo dos anos 80, em especial a partir de “Scanners” (1981).
9Baseando-se nas teorias de Marshall McLuhan, Guy Debord e Jean Baudrillard, Bukatman ainda faz uma leitura curiosa de “Videodrome”. Para o autor, Cronenberg evoca os textos de William Burroughs ao falar da imagem como um vírus que infecta o corpo hospedeiro (e assim exerce controle sobre ele) e ao identificar na gênese da contaminação a necessidade ou o apetite do indivíduo por drogas e sexo.
10A partir de 1905, muitos empresários do entretenimento começaram a utilizar espaços bem maiores que os vaudevilles para a exibição exclusiva de filmes. Estes espaços eram, na maioria das vezes, grandes depósitos ou armazéns adaptados para exibir filmes para o maior número possível de pessoas, em geral de poucos recursos. Nestes locais, abafados e pouco confortáveis, oferecia-se a diversão mais barata do momento: o ingresso custava 5 centavos de dólar, ou um níquel, daí seu nome, Nickelodeons.
11A norma estética-narrativa do cinema clássico Hollywoodiano foi por muito tempo reduzida a um certo ideal de transparência. Algo que diversos autores (Bellour, 1975; Bordwell, 1985; entre outros) viriam a complexificar. O que define de maneira mais substancial este cinema é justamente o desejo de comunicar uma história com eficácia.
12 Neste sentido, é bastante curiosa a imagem ambígua que seria construída ao redor de Griffith já a partir dos anos 20. Ele possui a aura do mito, do fascínio pela origem. Foi ele que pôs o cinema a andar com suas próprias pernas. O problema é o caminho trilhado, amarrando para sempre o cinema à narração composta nos moldes do folhetim e do melodrama. Griffith é herói e vilão, ao mesmo tempo.

Julio Bezerra
Pesquisador de pós-doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Doutor em cinema pela Universidade Federal Fluminense (UFF), escreve em geral sobre corpo e cinema contemporâneo. Crítico, escreve para variadas publicações. É também produtor e diretor de programas de TV. Mantém o blog www.cinekinos.blogspot.com.br.